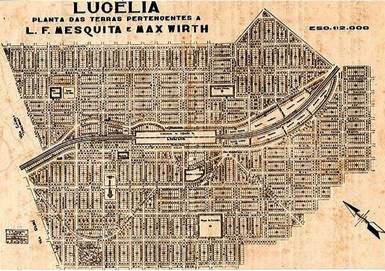Fui Diretor da Faculdade de Educação de Abril de 1980 a Abril de 1984. Antes disso, fui Diretor Associado, na gestão do Prof. Antônio Muniz de Rezende (Abril de 1976 a Abril de 1980). Fiquei, portanto, na Direção da Faculdade, como Diretor ou Diretor Associado, durante os oito anos que se seguiram aos quatro anos iniciais da Faculdade, em que ela foi dirigida pelo finado Prof. Marconi Freire Montezuma (do início, em 1972, até Abril de 1976). Embora tenha ativamente participado da gestão da Faculdade enquanto Diretor Associado, vou limitar minhas observações ao período em que ocupei o cargo de Diretor, visto que o Prof. Rezende cobrirá o quadriênio em que ele exerceu este cargo.
Vou procurar reunir minhas considerações, admitidamente muito pessoais, ao redor de seis temas:
- O Processo de Escolha
- A Primeira Fase da Gestão: O Fortalecimento dos Diretores
- A Crise de Outubro de 1981
- A Segunda Fase da Gestão: Tecnologia Educacional
- Rápida Apreciação
- O Futuro
I. O Processo de Escolha
O implantador e primeiro Diretor da Faculdade de Educação foi escolhido através de decisão pessoal do então Reitor da Universidade, Prof. Zeferino Vaz. A escolha recaiu inicialmente sobre o Prof. José Aloísio Aragão, que, entretanto, veio a falecer, sendo, em seu lugar, escolhido o Prof. Marconi Freire Montezuma, que, contudo, apenas respondeu pelo expediente da Direção. (O Prof. José Aloísio Aragão era irmão do Dr. Francisco Alcilone Aragão, que, desde a criação da Faculdade até a sua aposentadoria, exerceu função que, na prática, era a de Secretário da Faculdade).
O segundo Diretor, Prof. Antônio Muniz de Rezende, também foi nomeado pelo Reitor Zeferino Vaz, que acatou a indicação feita pelo Prof. Montezuma. Este fez sua indicação depois de consultar vários membros da então pequena comunidade da Faculdade, tendo o nome do Prof. Rezende alcançado consenso entre os consultados, apesar de ele haver chegado à Faculdade pouco tempo antes (cerca de um ano).
No meu caso, o processo de escolha foi mais elaborado e, do ponto de vista da democracia, representou certo avanço. Já havia, na Faculdade, um Colegiado, que fazia as vezes da futura Congregação, que não podia ainda ser implantada em virtude de uma alegada não institucionalização da Faculdade. Do Colegiado participavam o Diretor, o Diretor Associado, os Coordenadores de Curso, os Chefes de Departamento, os representantes dos vários níveis docentes e representantes dos alunos de Graduação (Pedagogia e Licenciatura) e Pós-Graduação. Cada Departamento, cada nível docente e cada categoria de alunos se reuniu, discutiu a questão, e veio ao Colegiado com uma lista de nomes que representava um elenco hierarquizado de preferências. Meu nome alcançou consenso, tendo obtido o voto de todos os dezenove participantes da reunião do Colegiado. Para compor a lista a ser encaminhada ao Reitor – então já o Prof. Plínio Alves de Moraes – foram usados nomes de outros docentes da Faculdade, menos votados (já que cada participante da reunião podia votar em até três nomes). Com o respaldo da decisão do Colegiado, minha indicação para a Direção foi encaminhada ao Reitor pelo Prof. Rezende.
Minha nomeação, entretanto, demorou um pouco para sair, porque havia jogo de pressões nos bastidores, do qual participaram vários elementos da cúpula da Universidade que não estavam totalmente satisfeitos com o meu nome, em grande parte em virtude de meu ativo envolvimento, enquanto Diretor Associado, na famosa greve de 1979 e no processo de contratação do Prof. Paulo Réglus Freire, naquele mesmo ano. Neste episódio, em particular, eu, na qualidade de Diretor Associado da Faculdade, no exercício da Direção (o Prof. Rezende estava afastado), havia, à revelia da Reitoria, enviado uma carta, co-assinada pelo Reitor da PUC-SP, ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando a liberação de passaporte para o Prof. Paulo Freire, que se encontrava na Suíça, visto que tínhamos, a Faculdade de Educação da UNICAMP e a PUC-SP, interesse em contratar o Prof. Paulo Freire – algo que, de fato, eventualmente ocorreu. Essa carta, graças à atuação bem intencionada mas desastrada do Prof. Moacir Gadotti (que, tendo, em Genebra, sido “apadrinhado” do Prof. Paulo Freire, acabou se tornando seu “padrinho” aqui no Brasil), recebeu desmedida atenção da imprensa local, dado o fato de que o Prof. Paulo Freire estava proscrito, proibido de retornar ao país, etc. É oportuno lembrar que a anistia “ampla, geral e irrestrita” não havia ainda sido concedida. Lembro-me bem, entretanto, do dia em que o Prof. Plínio me comunicou, durante a festa de casamento de um dos filhos dos Profs. Morency e Lucila Arouca, que minha nomeação estava saindo, como de fato saiu. Os elementos da cúpula da Universidade que resistiam ao meu nome não haviam, porém, desistido da luta, como ficaria claro 18 meses depois, na chamada Crise de 1981.
Minha gestão pode ser dividida em duas fases, separadas pela Crise de 1981. A primeira, que durou exatos 18 meses (de Abril de 1980 até a eclosão da crise, em Outubro de 1981), foi dedicada principalmente a atuação externa, no âmbito da Universidade. A segunda fase durou exatos dois anos, de Abril de 1982 a Abril de 1984. A crise durou exatos seis meses.
II. Primeira Fase da Gestão: O Fortalecimento dos Diretores
A gestão do Prof. Zeferino Vaz na Reitoria foi a do homem forte que era. Embora houvesse homens fortes na Direção de algumas unidades durante sua gestão, não havia dúvida de que eles, caso discordassem do Reitor, eventualmente seriam alijados de sua posição, como cabalmente demonstraram os “affaires” Fausto Castilho, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e Marcelo Damy de Souza Santos, no Instituto de Física.
Preferiu o Prof. Zeferino ser sucedido por alguém que não lhe fizesse sombra, e, assim, conseguiu, junto ao então Governador Paulo Egydio Martins, que fosse nomeado como seu sucessor o Prof. Plínio Alves de Moraes – pessoa boníssima, a quem respeito até hoje, mas sem a menor condição política de exercer o cargo de Reitor, especialmente diante de um Governador forte, como era o caso de Paulo Salim Maluf, que assumiu o cargo em 1979. O Prof. Plínio foi o terceiro da lista enviada ao Governador Paulo Egydio Martins.
O Prof. Plínio, sendo um Reitor politicamente fraco, deixou espaço para o fortalecimento político dos Diretores, enquanto grupo, dentro da Universidade – especialmente daqueles Diretores que, tendo sido indicados, pela primeira vez na Universidade, por processo razoavelmente democrático de consulta e votação, estavam respaldados por sua comunidade. O resultado disso foi que os chamados “Diretores Democráticos”, com apoio da Representação Docente no Conselho Diretor (inexistia ainda o Conselho Universitário), ocuparam o vazio deixado pela fraqueza do Reitor – com a simpatia deste mas contra a vontade de seus acólitos, em especial do Dr. Paulo Gomes Romeu, “raposa velha”, então Vice-Reitor, como houvera sido na gestão do Prof. Zeferino Vaz, ex-Presidente do Conselho Estadual da Educação e burocrata por vocação; Dr. Pérsio Furquim Rebouças, Procurador-Geral da Universidade, de inexcedível incompetência, mas para quem a função de Procurador da Universidade nada mais era do que uma excelente ocasião de ajustar as leis e as normas à vontade daqueles a quem pessoalmente servia; Sr. Zuhair Warwar, Coordenador da Administração Geral, que cobria de mistério os mais elementares processos operacionais para que pudesse tipificar como gênio administrativo toda vez que isso pudesse lhe trazer algum dividendo, político ou de outra natureza; e Dr. Arnaldo Camargo – ex-Delegado do DOPS, com contatos nos mais recônditos porões da Ditadura Militar, figura tétrica e ameaçadora, que serviu de Chefe de Gabinete tanto do Prof. Zeferino Vaz como do Prof. Plínio Alves de Moraes. Que eu saiba, o único que teve coragem de enfrentar o Dr. Camargo foi o Prof. Rezende. Ele certamente se lembra disso.
Quando assumi a Direção da Faculdade, em Abril de 1980, estava em pleno processo de consolidação o “Grupo dos Diretores Democráticos”. Desde que o Prof. Plínio assumiu a Reitoria da UNICAMP, em 1978, ficou claro que a saída do Prof. Zeferino da Reitoria criara um vácuo de poder. Enquanto viveu o Prof. Zeferino, ele ainda se imiscuiu muito nos negócios da Universidade. Entretanto, após sua morte, em Abril de 1981, o vácuo ficou clamando para ser preenchido e os Diretores, que vinham gradativamente, e um pouco nas sombras, assumindo os espaços, e, assim o poder, no âmbito do Conselho Diretor, começaram a se articular mais às claras, junto com a Representação Docente, para assumir a Direção da Universidade, conduzindo o processo de sucessão do Prof. Plínio.
Faziam parte do Grupo o Prof. Maurício Prates de Campos Filho, da Faculdade de Engenharia (que incluía em uma só as atuais Faculdades de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química), e que era reconhecidamente o líder do grupo; o Prof. Carlos Franchi, do Instituto de Estudos de Linguagem; o Prof. André Maria Pompeu Villalobos, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (que então englobava o atual Instituto de Economia); o Prof. Yaro Burian Júnior, do Instituto de Artes (apesar de ser Engenheiro Elétrico); o Prof. Aécio Pereira Chagas, do Instituto de Química; o Prof. Carlos Alfredo Argüello, do Instituto de Física; a Prof. Ayda Ignez Arruda, já falecida, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (que então englobava o atual Instituto de Computação); e eu, da Faculdade de Educação. Ao todo, oito Diretores.
Na divisão de tarefas, coube-me ser Presidente da Comissão de Orçamentos e Patrimônio (COP) do Conselho Diretor, função para a qual fui eleito em 1980 e reeleito em 1981. Junto com a Comissão de Legislação e Normas (CLN), que era presidida pelo meu colega e amigo, Prof. Rubem Azevedo Alves, então representante dos Professores Titulares no Conselho Diretor, a COP tinha um potencial político explosivo. Entre outras funções, tinha a atribuição de examinar as finanças da Universidade e de analisar a proposta de orçamento, recomendando ao Conselho Diretor as prioridades para a alocação de recursos. As comissões anteriores sempre haviam referendado o que o Coordenador da Administração Geral (Zuhair Warwar) lhes trazia pronto. A COP presidida por mim resolveu mexer em vários vespeiros: os contratos com a Ensatur (de propriedade do Deputado Nabi Abib Chedid), que tinha exclusividade no transporte fretado de funcionários, professores e alunos (visto que os ônibus urbanos de Campinas não chegavam até o campus); o processo de compras de gêneros alimentícios para os restaurantes, que envolvia recursos vultosos e era precedido de obscuras licitações; as verbas destinadas aos programas de residência médica no Hospital de Clínicas, que eram menina dos olhos do Prof. Zeferino; as gratificações dos altos funcionários da Universidade; etc. Na minha gestão na Presidência da COP o Conselho Diretor começou a democratizar o processo de preparação do orçamento e de execução orçamentária, com resultados que se mostraram assustadores para a cúpula da Universidade. A Administração Geral da UNICAMP (leia-se: Zuhair Warwar) fez guerra surda o tempo todo, em função da perda de poder, da revelação de quanto se gastava com a Ensatur e com as compras de gêneros alimentícios, etc.. Os Médicos Residentes fizeram greve por não desejarem que sua remuneração fosse fixada pela FUNDAP, conforme determinação do Governo, e porque queriam que se alocassem recursos para seu pagamento diferenciado, pretensão negada pela COP. Os funcionários mais altos da Universidade ganharam uma polpuda gratificação da Reitoria, mas a COP não alocou recursos para seu pagamento, o que fez com que entrassem todos com processos na Justiça. Em termos de democratização de procedimentos, é importante registrar que, quando da programação orçamentária e da concessão de suplementação de verbas, fazia-se uma reunião da COP com todos os Diretores para decidirem, em conjunto, como distribuir os recursos. Isso, naquela época, era inusitado.
Em conversas pessoais, o Reitor estimulava o ataque aos burocratas encastelados na alta administração da Universidade. Nas reuniões do Conselho Diretor, entretanto, procurava não confrontá-los diretamente, embora em muitas ocasiões tenha deixado de lhes dar a sustentação a que haviam se acostumado.
Esse processo de arejamento do Conselho Diretor alcançou seu ponto mais alto quando o Conselho, contra a orientação e a vontade da Mesa, aprovou uma Resolução, decorrente de proposta do Prof. Rubem Alves, que deflagrava o processo de sucessão na Reitoria, definindo uma agenda que previa a apresentação de candidatos, definia um prazo para debates com a comunidade, e estipulava uma data, na segunda quinzena de 1981, para uma Consulta à Comunidade. O mandato do Prof. Plínio se encerraria (como de fato se encerrou) em Abril de 1982. A resolução do Conselho pretendia que, realizada a consulta, o Conselho a apreciasse, e, naturalmente, referendasse o seu resultado, durante o mês de Novembro, encaminhando ao Governador a lista de nomes em tempo mais do que hábil para a indicação do novo Reitor. Esperavam os Diretores e as Representações Docente e Discente que a lista sêxtupla a ser enviada ao Governador não lhe deixasse escolha: todos os seis nomes escolhidos pela comunidade e referendados pelo Conselho deveriam ser de professores afinados com o grupo considerado democrático.
Os oito Diretores mencionados atrás resolveram se candidatar à sucessão do Prof. Plínio. Dois representantes docentes no Conselho, os Profs. Hermano Tavares e Jorge Lobo Miglioli, também se candidataram. Também se apresentou candidato o Prof. Paulo Freire, que não era membro do Conselho mas se identificava com o grupo majoritário no Conselho. Além desses, apresentaram-se outros candidatos, não afinados com esse grupo, como os Profs. Rogério Cerqueira Leite (ex-Diretor do Instituto de Física e ex-Coordenador Geral das Faculdades), José Aristodemo Pinotti (ex-Diretor da Faculdade de Ciências Médicas), Morency Arouca (ex-Diretor da Faculdade de Engenharia Civil, então em Limeira), e Attílio José Giarola (ex-Coordenador Geral de Pós-Graduação e na época Coordenador Geral das Faculdades).
III. A Crise de Outubro de 1981
A Consulta à Comunidade com vistas à escolha do sucessor do Prof. Plínio estava marcada para a semana de 19 de Outubro de 1981. No dia 17, um Sábado, a comunidade acadêmica foi surpreendida com a publicação, no Diário Oficial do Estado, de uma Portaria do Reitor, datada do dia anterior, dispensando de suas funções os oito Diretores que eram candidatos ao cargo de Reitor, sob a alegação de que não eram Professores Titulares, visto que, segundo pretendia o Reitor (com base num parecer rapidamente forjado pelo Conselho Estadual de Educação, a pedido do Dr. Paulo Gomes Romeo), a expressão “Professor Titular” deveria ser interpretada como significando “Professor Titular Concursado”. Ressalte-se que, na Universidade inteira, naquele momento, só havia dois Professores Titulares Concursados: o Prof. Pinotti, que conseguira, a todo custo, e agora ficava claro porquê, fazer aprovar seu concurso no Conselho Diretor meses antes, e o Prof. Arouca, que havia feito o concurso na Universidade de São Paulo, de onde viera para a UNICAMP.
Ao mesmo tempo que exonerava os oito Diretores, o Reitor nomeou oito novos Diretores, prontamente batizados de Interventores pela comunidade. A pressa na nomeação dos novos Diretores fez com que a Reitoria não avaliasse o impacto político, e nem mesmo jurídico, de seus atos. Para a Faculdade de Educação foi nomeado o Prof. Eduardo Daruge, dentista e professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Para algumas unidades foram nomeados professores de fora da Universidade.
Não é difícil imaginar a conturbação que a Portaria gerou na comunidade universitária. Imediatamente foi decretada uma greve que durou seis meses. A Consulta à Comunidade foi realizada, mesmo com a comunidade em greve, tendo a lista sêxtupla sido constituída, nesta ordem, pelos Profs. Paulo Freire, Maurício Prates, Carlos Franchi, Rogério Cerqueira Leite, Yaro Burian e por mim.
Alguns dos Interventores tentaram tomar posse e foram barrados dos prédios das respectivas unidades. O Interventor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, de cujo nome felizmente não me lembro mais, mas que era de fora da Universidade, foi intencionalmente levado, pelo motorista da unidade, para um edifício muito distante, e teve que andar de volta até a Reitoria, perdido pelo campus, sob vaias e toda sorte de insultos, sendo alvo de moedas, balas, bolinhas de papel e outros pequenos objetos que lhe eram atirados. Na Faculdade de Educação o Prof. Daruge, depois de várias tentativas frustradas, finalmente conseguiu entrar no prédio, sendo recebido pelos membros do Conselho Interdepartamental da Faculdade que, através do Decano da Faculdade, Prof. Montezuma, então na Chefia do Departamento de Psicologia Educacional, lhe passaram, por ter aceito o cargo, severa e merecida descompostura, da qual o Prof. Daruge provavelmente nunca mais vai se esquecer até sua morte. O efeito imediato foi que o Interventor nunca mais colocou os pés nem mesmo perto da Faculdade de Educação. Consta que renunciou, mas a renúncia, se ocorreu, não foi publicada. De qualquer forma, ele sumiu.
Entrementes, a crise continuou e a Universidade permaneceu parada. De todo o país vieram moções de solidariedade à comunidade universitária agredida. Políticos de toda estirpe procuraram “faturar” em cima da crise, comparecendo ao campus, participando de reuniões, fazendo declarações, etc..
Alguns Interventores de pronto renunciaram, como o do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, um biólogo, que foi substituído pelo Prof. Carlos Rodrigues Lessa, professor de economista do próprio Instituto, em episódio que gerou enorme controvérsia no campus e manchou para sempre a reputação dos envolvidos. O nome do Prof. Lessa para substituir o Interventor original foi indicado à Reitoria pelos economistas da Universidade: Profs. Sérgio Salomé da Silva (Diretor Associado do Instituto, que exercia interinamente a Direção, na ausência do Prof. André), Ferdinando de Oliveira Figueiredo, Jorge Lobo Miglioli, Wilson Cano, João Manoel Cardoso de Mello, Luciano Coutinho de Oliveira, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Maria Conceição Tavares e Paulo Renato Costa Souza (então em fim de mandato como Presidente da ADUNICAMP). Alegavam esses professores (e outros que lhes davam apoio) ser melhor ter um “interventor democrático” a um interventor não-democrático. O Prof. Lessa, embora residisse no Rio de Janeiro, dava uma aula por semana no Departamento de Economia da UNICAMP (da mesma forma que a Profa. Maria Conceição Tavares), assim fazendo parte, oficialmente, do Grupo dos Economistas da UNICAMP, mas era Professor, aparentemente Titular Concursado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A indicação do Prof. Lessa foi aceita pela Reitoria, pois esta estava interessada em rachar o movimento e pôr fim à crise. O Prof. Lessa, sem nenhuma vergonha e nenhum escrúpulo, tomou posse do cargo do Prof. André, e foi prontamente considerado pelos economistas da UNICAMP o legítimo Diretor do Instituto.
Os economistas da UNICAMP, portanto, dispensaram qualquer sutileza e deram um “golpe branco” no Diretor legitimamente eleito do IFCH, o Prof. André. Abriram, assim, em proveito próprio, uma brecha no movimento. Sua iniciativa foi energicamente repudiada pela comunidade. O campus foi forrado de pichações e faixas dizendo “Fora Lessa, Interventor”. As reais intenções políticas do Grupo dos Economistas da UNICAMP começaram a ficar claras naquele momento para toda a comunidade universitária. A partir de então, os economistas da UNICAMP, através do Prof. Lessa e, frequentemente, também dos outros membros do grupo, tornaram-se aliados da Reitoria e deixaram de fazer parte da oposição ao ato de força do Reitor. Maquiavel não poderia ter encontrado melhor evidência de Realpolitik.
Para mim o episódio Lessa não teria sido doloroso se não tivesse levado vários professores da Faculdade de Educação, simpatizantes dos economistas, a propor que se buscasse uma “solução Lessa” também para a Faculdade de Educação. Deixo de mencionar os nomes dos que aderiram a essa proposta, por estarem ainda conosco, mas sua ideia era a de que era preferível encontrar algum Professor Titular Concursado democrático em alguma universidade, e convidá-lo para assumir a Direção da Faculdade, a correr o risco de ter um outro Prof. Daruge na Direção. Felizmente, e para crédito da comunidade da Faculdade de Educação, os proponentes dessa tese ficaram na minoria e ela não prosperou.
Achei que era chegada a minha vez de agir sozinho. Com a assessoria da Dra. Ana Maria Tebar, amiga pessoal e advogada que trabalhava na Secretaria Geral da Universidade, foram rascunhadas as linhas mestras de um Mandado de Segurança contra o ato do Reitor. Usamos argumentos próprios e outros que foram apresentados pelo Prof. Dalmo de Abreu Dallari, que emitiu circunstanciado parecer denunciando o arbítrio e o abuso de poder do Reitor da UNICAMP. Através do Prof. Rubem Alves, contatei o Dr. Waldemar Thomazine, Juiz do Trabalho aposentado e membro da Comissão Justiça e Paz de Campinas, que se dispôs a gratuitamente impetrar o Mandado, colocando nossos argumentos em forma jurídica apropriada. No início de Dezembro de 1981, com muito poucos na Universidade sabendo o que estava sendo feito, o Mandado foi impetrado e liminar favorável foi concedida pelo Juiz de Direito Álvaro Érix Ferreira, então novo na cidade.
A liminar do Juiz caiu como uma bomba na comunidade e na cidade (foi manchete de primeira página dos dois jornais de Campinas), posto que me reconduzia ao cargo de Diretor. Imediatamente impetramos Mandados de Segurança em nomes de todos os Diretores exonerados, exceto os Profs. Carlos Franchi e Yaro Burian, que, por razões pessoais, preferiram não apelar à Justiça. Todos os que impetraram os Mandados receberam liminares favoráveis.
A Reitoria, apavorada, contratou, sem licitação e por uma fábula de dinheiro, o escritório do Dr. Alfredo Buzaid, indigníssimo proponente do Ato Institucional nº 5, para defendê-la nos Mandados de Segurança (assim, implicitamente, reconhecendo a incompetência do Dr. Pérsio Furquim Rebouças). O Dr. Buzaid trouxe seu quartel-general para Campinas, tentou intimidar os Juízes locais (tendo sido bem sucedido em uma instância, em que um Juiz voltou atrás na liminar), entrou com Agravos de Instrumento no Tribunal de Justiça – tudo sem sucesso (exceto no caso do Juiz que voltou atrás aqui em Campinas).
Quando a Reitoria percebeu que uma das liminares, envolvendo dois dos Diretores, fora revogada, resolveu agir com presteza. Convocou uma Reunião do Conselho Diretor para a Sexta-feira anterior ao Carnaval, em Fevereiro de 1982, com a finalidade de elaborar a Lista Sêxtupla para o Governador do Estado, Paulo Salim Maluf. Não contente com essa manobra, reforçou o seu time. Os seis representantes do Governo no Conselho Diretor foram substituídos por pesos-pesados oriundos do mais retrógrado órgão da burocracia educacional daquela época, o Conselho Estadual da Educação.
O Conselho Diretor, reunido, elaborou, sob veementes protestos do Prof. Rubem Alves e meus próprios, uma lista sêxtupla, colocando o nome do Prof. Pinotti em primeiro lugar. Após a reunião, que terminou depois das 18 horas, a lista foi encaminhada pessoalmente ao Governador Maluf, que estava viajando pelo Estado, em um de seus Governos Itinerantes. Num milagre de eficiência, a nomeação do Prof. Pinotti foi publicada no Diário Oficial do dia seguinte, um Sábado de Carnaval. Apropriado.
Pelos mapas de votação, competentemente organizados pelos alunos Cláudio de Oliveira Pinto e Sandra Aparecida Riscal, Representantes Discentes no Conselho, ficou patente que o Prof. Jorge Miglioli, economista e Representante Docente no Conselho, havia votado para o Prof. Pinotti, o fato deixando claro que os economistas haviam encontrado em uma aliança com o Prof. Pinotti, Professor Titular Concursado, a solução de seu problema (o acesso ao poder a qualquer custo). A posterior nomeação dos Profs. Wilson Cano, Ferdinando de Oliveira Figueiredo, e Paulo Renato Costa Souza para altos cargos na administração do Prof. Pinotti simplesmente confirmou o que já estava óbvio. Em 1984 o Prof. Pinotti indicou o Prof. Paulo Renato para o cargo de Secretário da Educação, para o qual ele, Reitor, havia sido convidado pelo Governador André Franco Montoro. Em 1985, o Prof. Pinotti apoiou a candidatura do Prof. Paulo Renato para substituí-lo na Reitoria da UNICAMP e, em contrapartida, foi ocupar o seu lugar na Secretaria da Educação em Abril de 1986, ao sair da Reitoria e passá-la para o Prof. Paulo Renato. Mas com isso saio do período que me compete analisar.
A crise certamente não terminou com a nomeação do Prof. Pinotti. Os processos continuaram a tramitar e, eventualmente, meu processo recebeu uma belíssima sentença definitiva, que chamou o Reitor de arbitrário, denunciou-o por abuso de poder e desmascarou até mesmo a ficção dos concursos. A Universidade continuou em greve.
O Prof. Pinotti, Reitor indicado, mas ainda não empossado, convidou o Prof. Maurício e a mim para uma conversa em sua casa. Ali propôs que retirássemos os processos da Justiça. Em contrapartida, anularia todos os atos do Prof. Plínio contra nós, pagaria as gratificações de Diretor correspondentes aos seis meses, de Outubro de 1981 a Abril de 1982, de todos os exonerados e nos daria o espaço político que desejássemos (desde que não na esfera da mais alta administração, que já estava toda definida). O Prof. Pinotti queria assumir o cargo como o Grande Pacificador da Universidade. Conversamos com os Diretores exonerados e todos concordaram que a proposta era razoável e que a Universidade deveria voltar à normalidade. Assim, assinamos um acordo e retiramos os processos da Justiça. (O meu processo estava em vias de receber uma sentença favorável em Segunda Instância, no Tribunal de Justiça, e isso, certamente, desempenhou um papel importante na decisão do Reitor nomeado).
Com destaque para a ausência conspícua do Prof. Maurício, a maior parte dos Diretores participou da posse do Prof. Pinotti, no Teatro do Centro de Convivência. Os Diretores assinaram um acordo, mas os alunos, não. Estes lotaram as dependências do teatro, fantasiados de palhaços, vaiaram o novo Reitor durante toda a cerimônia, não o deixando ler seu discurso. No entanto, o novo Reitor tomou posse e, aos poucos, o clima se acalmou dentro da Universidade.
O resultado da crise, no que me diz respeito, foi desilusão acerca de muitos colegas e um considerável cinismo acerca da política universitária. Depois da crise, realizei pouco pela Faculdade, tanto externa como internamente, porque fiquei profundamente desestimulado pelo jogo político sujo de que fui testemunha e vítima, e que me convenceu de que, até mesmo dentro da Faculdade, havia pessoas dispostas a promover, por baixo do pano, sua agenda política, e mesmo político-partidária, às custas da vontade expressa da maioria absoluta da comunidade da UNICAMP, em geral, e da Faculdade de Educação, em particular. A crise me fez perder a ingenuidade política, que me levava a crer que as pessoas, dentro da Universidade, estavam primariamente interessadas em preservar a integridade da Universidade contra ingerências externas, viessem de onde viessem, mostrando-me que muitos colegas, na Universidade, se opuseram à intervenção, não porque ela era intervenção, mas porque os interventores não portavam as mesmas cores e bandeiras políticas, e que estariam plenamente dispostos a conviver com a intervenção, desde que os interventores iniciais fossem trocados por interventores politicamente corretos, como o economista Carlos Lessa.
III. A Segunda Fase da Gestão: Tecnologia Educacional
Diante desse quadro, resolvi pensar um pouco mais em mim e um pouco menos na Universidade. A Crise de 1981 me demonstrou que, se eu houvesse sido exonerado de meu cargo de Professor, além do de Diretor, não teria muitas opções, porque não sabia fazer outra coisa na vida. Concluí que era hora de mudar isso. Assim que a crise foi equacionada, em Abril de 1982, matriculei-me num curso de computação (Programação em COBOL, duração 14 meses), na única escola de computação da cidade, a People Computação (que me foi indicada pelo Prof. Maurício). Dentro da Universidade, envolvi-me com o grupo que pesquisava o uso do computador da educação, liderado pelos Profs. Fernando Curado, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, e Raymond Paul Shepard, da Faculdade da Educação. Em 1983 propus à Reitoria a criação do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED). O Prof. Pinotti acatou minha sugestão, criou o Núcleo e me nomeou seu primeiro Coordenador.
Ao mesmo tempo, coordenei, na UNICAMP, em 1983, a elaboração do Projeto EDUCOM, apresentado ao MEC, que foi um dos cinco projetos aprovados em 1984 (dentre os 26 submetidos) e os trabalhos de tradução da linguagem LOGO para o Português, em Convênio com a Itaú Tecnologia S/A (Itautec). Esse convênio trouxe para a Faculdade de Educação três dos primeiros quatro microcomputadores a entrar na Universidade (o outro foi para projeto do Prof. Mario Jino, na Faculdade de Engenharia).
IV. Rápida Apreciação Pessoal
Minha atenção à política universitária, nos primeiros dezoito meses, a total paralização de atividades durante os seis meses da crise, e minha desmotivação, nos últimos vinte e quatro meses, significam que minha gestão não se distinguiu por grandes realizações no âmbito da própria Faculdade. Na verdade, acho que, internamente, realizei muito mais como Diretor Associado do que como Diretor, porque o Prof. Rezende me delegou boa parte das tarefas de administração interna e havia muito mais a ser feito, para por a casa em ordem, administrativamente, em 1976 do que em 1980.
É verdade que meu trabalho no âmbito do Conselho Diretor, minha candidatura à Reitoria, minha colocação entre os seis primeiros na lista da comunidade, meu papel na solução jurídica da crise, ajudaram a elevar a reputação da Faculdade de Educação dentro da Universidade – reputação esta que, é imprescindível que se diga, já havia tido considerável ascensão na proba e inatacável gestão do Prof. Rezende, mentor, colega e amigo, a quem publicamente manifesto meu mais profundo respeito e minha incondicional admiração.
Aproveito o ensejo para registrar minha profunda admiração por dois outros colegas e amigos. Um deles, o Prof. Rubem Alves, primeiro Presidente da ADUNICAMP e o mais bravo representante que a comunidade docente jamais teve no Conselho Diretor da Universidade. Com sua reputação internacional e, sobretudo, com suas ideias originais e sua integridade moral, o Rubem muito contribuiu para a necessária deflagração da Crise de 1981 e, posteriormente, para sua mais adequada solução. O outro, o Prof. Maurício Prates, líder inato, motivador por natureza, provocador nos momentos certos, sempre irrequieto, e incomparável realizador. A UNICAMP foi a que mais perdeu em decorrência de o Maurício não ter se tornado o seu Reitor em 1982, como devia. Teria sido realmente Magnífico. Aposentado da UNICAMP, a PUCCAMP hoje se beneficia de sua infindável energia e de seu contagioso entusiasmo.
Além desses três amigos, é preciso registrar que sem Ana Maria Tebar, Waldemar Thomazine e Álvaro Érix Ferreira não teria havido uma solução satisfatória da crise. Os dois últimos provavelmente não se deem conta disso; ela, entretanto, sabe – e sabe que eu sei, e agradeço. Mas agradeço aos outros dois também, onde quer que estejam.
Minha gestão não me cabe avaliar além dessa rápida apreciação pessoal. No futuro alguém provavelmente o fará, e gostaria que o fizesse com base na melhor documentação possível. Por isso, aproveito o ensejo para propor a criação, dentro da Faculdade, de um pequeno Centro de Memória da História da Faculdade de Educação, ao qual terei prazer de legar principalmente os recortes de jornais e as cópias dos processos judiciais relativos à crise. Duvido que alguém mais os tenha guardado.
V. O Futuro
Na gestão dos que me sucederam, a Faculdade de Educação cresceu, institucionalizou-se, ganhou prédio próprio, projetou-se nacional e internacionalmente, ganhou um setor audiovisual, aumentou consideravelmente o número de computadores disponíveis para funcionários, professores e alunos, e criou órgãos internos voltados para a pesquisa em tecnologia educacional. Cumprimento aqui todos os que me sucederam, inclusive o atual Diretor, por essas realizações.
Entretanto, a despeito da visível presença de tecnologia dentro das dependências da Faculdade, não me parece que a comunidade da Faculdade, no seu todo, ou mesmo em sua maior parte, tenha plenamente compreendido o impacto que os novos meios de comunicação, que convergem, inelutavelmente, para o computador, estão tendo, e cada vez mais vão ter, sobre a educação. Continuamos a formar semianalfabetos nessa área, tanto em nosso curso de Pedagogia como em nossas Licenciaturas, para não mencionar os Cursos de Pós-Graduação.
Estou convicto de que a educação, no século XXI, será cada vez mais informal, mais difusa, mais permeada pela tecnologia, mais desintermediada, mais permanente, mais tendente à onipresença e ubiquidade. Isso significa que a escola e o professor, em seus modelos atuais, terão um papel cada vez menor na educação, perdendo espaço para outras instituições e outros agentes que desempenharão um papel cada vez mais central na educação das pessoas.
Há muito que considero que o foco de atenção da Faculdade de Educação, voltado quase exclusivamente para a educação formal no âmbito da escola pública, representa um sério erro de avaliação – exemplo de miopia pedagógica que só consegue ver o que está perto. Dentro do cenário atual, e, mais ainda, dentro do que se descortina, acho que esse erro de avaliação passa a ser grave anacronismo, que poderá rapidamente pôr a perder a reputação que a Faculdade a duras penas angariou ao longo de seus 25 anos de vida.
Campinas, 19 de Agosto de 1997
* Trabalho apresentado na Mesa Redonda de Ex-Diretores da Faculdade de Educação no dia 19 de Agosto de 1997, quando se comemorou o 25º aniversário da criação da Faculdade.
Transcrito aqui em Salto, 3o de Junho de 2014